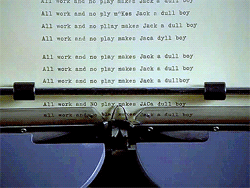Por Eduardo Carli de Moraes
 Budapeste é talvez um dos ápices do percurso literário de Chico Buarque. Lançado em 2003, pela Companhia das Letras, o romance arrancou entusiásticos comentários de muitas sumidades da intelectualidade. José Saramago louvou-o: “Chico ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e chegou ao outro lado. Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro.” Veríssimo, após elogiar a “prosa depurada” e a “construção engenhosa”, também derreteu-se em loas, dizendo que chegamos ao fim do livro “lamentando que não haja mais” e “assombrados pelo sortilégio deste mestre de juntar palavras”. Já José Miguel Wisnik sugeriu, com muita propriedade, que “no exato momento em que termina, transforma-se em poesia”.
Budapeste é talvez um dos ápices do percurso literário de Chico Buarque. Lançado em 2003, pela Companhia das Letras, o romance arrancou entusiásticos comentários de muitas sumidades da intelectualidade. José Saramago louvou-o: “Chico ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e chegou ao outro lado. Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro.” Veríssimo, após elogiar a “prosa depurada” e a “construção engenhosa”, também derreteu-se em loas, dizendo que chegamos ao fim do livro “lamentando que não haja mais” e “assombrados pelo sortilégio deste mestre de juntar palavras”. Já José Miguel Wisnik sugeriu, com muita propriedade, que “no exato momento em que termina, transforma-se em poesia”.Como adaptá-lo para a telona sem trair o espírito de um livro tão instigante, complexo e bem bolado? O diretor Walter Carvalho, que já tinha assinado a direção do documentário Janela da Alma (com João Jardim) e a cine-biografia musical Cazuza – O Tempo Não Para (com Sandra Werneck), realiza sim uma tentativa bem-cuidada, que prima pela técnica e que transporta com razoável fidelidade o mundo imaginado por Chico, ainda que com certos deslizes e equívocos (que logo mais comentamos).
“Como dar vida aos livros? Como voltar a vê-los como uma via real para a boa vida e não apenas como papel e tinta conversíveis em dólar?” , pergunta-se Jurandir Freire Costa (em artigo para a Folha de São Paulo, 7/2/99). Budapeste é uma obra que nos deixa obcecados e preocupados com a mesma dúvida, e um tanto desconsolados com a resposta que nós dá o atual estado de coisas.
Pois aqui as podridões no submundo da literatura são trazidos à tona: autorias duvidosas, campanhas de marketing apelativas, “tenebrosas transações” de bastidores, noites de autógrafo espetaculosas e festas de lançamento repletas de câmeras, champanhe caro e caviar... Um cenário repleto de êxitos literários efêmeros e voláteis parece erguido com o fim de ser um velado questionamento, mas que nunca descamba para uma crítica de artilharia pesada, a uma Sociedade do Espetáculo que criou livrarias que mais parecem templos do consumo e que fez se disseminarem como a peste os best-sellers e os livros de “auto-ajuda” (que ajudam muito mais a conta bancária de seus autores e editoras do que transmitem qualquer “sabedoria” aos leito--- ops! consumidores.).
Mas a maior alfinetada às picaretagens do mundo literário é a própria profissão de Costa (encarnado no filme pelo excelente Leonardo Medeiros): ele é um ghostwriter, ou “escritor anônimo”. Trampando numa agência que oferece plena “confidencialidade”, ele topa escrever de tudo por encomenda: de teses de doutorado a livros de poesia, de auto-biografias a cartas de amor, passando até por discursos políticos e ameaças de suicídio – escritos que faz menos pela grana que pelo “exercício de estilo”.
 No romance, esta faceta crítica é mais intensa e peçonhenta que no filme, no qual aparece um tanto atenuada e escondida detrás da “história de amor” que domina o primeiro plano. No livro, por exemplo, quando Costa vai ao lançamento do volume de poesias em húngaro que escreveu para outro assiná-lo, comenta enfezado que aquilo é um “rega-bofe para privilegiados!”. Sem falar que em seu livro Chico, provocando pesado, faz até o presidente da Academia Brasileira de Letras ser um cliente da Agência de Escritores Fantasma!
No romance, esta faceta crítica é mais intensa e peçonhenta que no filme, no qual aparece um tanto atenuada e escondida detrás da “história de amor” que domina o primeiro plano. No livro, por exemplo, quando Costa vai ao lançamento do volume de poesias em húngaro que escreveu para outro assiná-lo, comenta enfezado que aquilo é um “rega-bofe para privilegiados!”. Sem falar que em seu livro Chico, provocando pesado, faz até o presidente da Academia Brasileira de Letras ser um cliente da Agência de Escritores Fantasma!Costa é um autor ressentido por ser um mero “Gasparzinho” e está faminto por palmas. Mostra-se sempre ansioso por destronar os falsos ídolos que se ergueram à glória literária com luz de empréstimo e pena alugada. Budapeste faz uma análise em minúcias de uma personalidade cindida entre o conforto de criar nos bastidores e a vontade de estar brilhando em cima do palco. Sua profissão gera nele um intenso desejo de vanglória, que é tão ardente por ter sido tão reprimido por tantos anos pela obrigação profissional de permanecer nas sombras do anonimato. “Eu desde sempre estive destinado à sombra, mas que palavras minhas fossem atribuídas a nomes mais e mais ilustres era estimulante, era como progredir de sombra…”, escreve Chico.
Há em Costa um anseio por reconhecimento que não pode confessar-se e que só se satisfaz de contrabando e às migalhas. Sua própria esposa, Vanda (interpretada por Giovana Antonelli), lê muitos artigos de jornal e livros de sucesso, sem saber que seu marido é o autor deles: “Ver a Vanda correr os olhos sobre as minhas letras, esboçar um sorriso, apreciar um texto meu sem saber que o era, seria quase como vê-la se despir sem saber que eu a estava olhando.” (103)
Os momentos de maior carga dramática no filme de Carvalho são aqueles em que o “gabarola” que há em Costa sai de sua casca e exige para si os holofotes e as salvas de palmas. Como na cena em que ele, num rompante de ciúme, feito Otelo prestes a estrangular Desdêmona, arranca a esposa dos braços de um pseudo-escritor e desfaz a farsa a altos brados, no meio de uma festa. “Sou eu o autor do livro, não ele!”, esbraveja, como uma criança birrenta que quer a bênção da professora, dizendo que o colega que tirou 10 colou dele a prova inteira…
Budapeste, apesar de seu nome, não deixa de ser também uma obra sobre o Rio de Janeiro. Chico narra, com muito conhecimento de causa, várias cenas-marco do panorama carioca. Oferenda de lírios à Iemanjá debaixo dos foguetórios. Marchinhas de carnaval que emergem das ruas e disputam com o som dos televisores. Gringos deslumbrados que se enamoram de mulatas e seus indecorosos bronzeados. Jovens suburbanos, de cabeça raspada e profusas tatuagens, que talvez sejam “desses skinheads que gostam de encher as bichas de porrada”. Caminhadas infindáveis, de Leblon a Copacabana, que faz um literato avoado que os vendedores ambulantes provocam: “e aí, meu, tá à toa na vida?”
* * * * *

AMANDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Deveria ser proibido debochar de quem se aventura a amar em língua estrangeira. José Costa, protagonista de Budapeste, é um desses que se lança a este desafio cheio de percalços. Mergulhando numa cultura estranha, como um alienígena que pousa no planeta incógnito de outro idioma, enfrenta tanto as agruras de um mundo literário corrompido quanto as feridas e glórias de um vínculo amoroso difícil, em que o sentimento precisa dar um jeito de saltar pelo abismo de uma linguagem comum que falta, a princípio, mas que vai se inventando conforme se caminha.
Escapando de um casamento opressivo no Brasil, Costa parte para uma aventura sentimental-literária em Budapeste. O filme (e o livro) é um relato de sua batalha para assimilar uma cultura estranha e adquirir uma nova língua – e uma das mais esdrúxulas e pouco familiares que existem para um brasileiro. Mesmo os budapestinos reconhecem o enrosco de seu idioma: “O húngaro é a única língua que o diabo respeita”.
Costa nos dá a impressão de ser um homem que ama desbravar os mistérios das línguas estranhas e que acha que “desembarcar em país de língua desconhecida dá sempre uma sensação boa”, escreve Chico, “como se a vida fosse partir do zero".
Kriska (Gabriella Hámori) é a paixão que ele acha em solo húngaro. Branca, bela e amante da disciplina, torna-se sua professorinha dedicada e exigente: “nas primeiras aulas, me fazia passar sede porque eu falava água sem acertar a prosódia”, escreve Chico. Não se sabe se a paixão é maior pela mulher ou pelo idioma, mas estas não são obsessões que se excluem: uma alimenta a outra. Quando está prestes a se aventurar no corpo estrangeiro de Kriska, ele pensa: “me comovia sabendo que em breve conheceria suas intimidades e, com igual ou maior volúpia, o nome delas.”
* * * *

LOST IN TRANSLATION
Agora, vamos aos paralelos livro-filme e as virtudes e defeitos da adaptação...
A prosa de Chico, ecoando sua poesia musical, possui muitos elementos brincalhões e lúdicos, com uma veia cômica muito afiada, o que não transparece quase nada na adaptação cinematográfica. Um pouco na linha de Monteiro Lobato, Guimarães Rosa ou Adélia Prado, Chico adora usar termos, tanto do linguajar chulo e popular quanto do português mais parnasiano e livresco, que soam divertidos, inauditos e coceguentos. Pesquei de Budapeste, só a título de exemplo, alguns exemplares: arraia-miúda, embevecido, ressabiado, brutamontes, mentecaptos, caquético, lépido, encasquetado, atarantado…
Em Chico, o avião faz pouso forçado porque “deu um bode”, o chefe é um “vampiro que chupa talento” e a apresentadora de TV é uma “papagaia”. No exílio , o que mais maltrata o personagem é a saudade da língua materna, que faz com que Costa ligue para o Brasil só pelo prazer de deixar, numa secretária eletrônica, gostosuras do brasilianês – “marimbondos”, “adstringências” e “Guanabaras”, palavras que gringo algum tem o prazer de pronunciar! Apesar do livro estar repleto dessas guloseimas linguísticas – o leitor descobre fascinado que “tartaruga em alemão é sapo com escudo” e é apresentado a moças com “vestido maria-mijona”! – no filme o banquete linguístico é bem mais pobre e menos requintado.
Mas, se fosse só isso, o problema seria pequeno e indigno de reproches mais inflamados. O problema é que o filme comete mais graves pecados. Não se sai “tesourando” e modificando o espírito da linguagem de um livro, ao transpô-lo para o cinema, com impunidade artística e sem entornar um pouco o caldo. No fundo, a impressão que fica é que o cinema idealiza e tenta tornar “elevado” o que a literatura de Chico trata de modo pé-no-chão, irônico e cáustico.
 O filme morre de medo da feiúra, enquanto Chico em seu livro é frequentemente “punk” e obsceno – falando, por exemplo, em “comedor de merda”, “chupador de pica”, “beijar no cangote”, “se esbaldar no sex shop” e “falar peito, boceta e cu em dialeto”. Um bom bocado dessa linguagem ofensiva e forte é limado de um filme que se pretende refinado e sublime, mas que por isso trai bastante o espírito lúdico e brincalhão da apimentada escrita buarquista.
O filme morre de medo da feiúra, enquanto Chico em seu livro é frequentemente “punk” e obsceno – falando, por exemplo, em “comedor de merda”, “chupador de pica”, “beijar no cangote”, “se esbaldar no sex shop” e “falar peito, boceta e cu em dialeto”. Um bom bocado dessa linguagem ofensiva e forte é limado de um filme que se pretende refinado e sublime, mas que por isso trai bastante o espírito lúdico e brincalhão da apimentada escrita buarquista.Através de uma fotografia majestosa e bela, o filme torna a cidade húngara algo elevado e altamente estético – e o deleite que nos causam nos olhos certas tomadas não surpreendem, já que Carvalho se notabilizou por magníficos trabalhos como diretor de fotografia em filmes como Lavoura Arcaica e Abril Despedaçado.
Mas a Budapeste que Chico imaginou me parece bem menos acolhedora e maternal do que aquela que vemos na tela: seu Costa fica sem-teto e com cartões de crédito confiscados, zanzando por espeluncas e becos mau-iluminados, como um dejeto latino-americano indesejado. É uma figura um tanto trágica, que tem suspeita de pneumonia, só arranja trampo de subalterno e quase se suicida no Danúbio. Esses extremos maus bocados por que passa aparecem bem atenuados no filme de Carvalho, fazendo o personagem perder um pouco de seu caminhar trôpego e quase trágico. Tanto que fica a impressão de que o filme exagera na glicose e na água-com-açúquice em momentos em que o livro é trash feito um romance de Henry Miller.
No livro, Kriska também nos aparece muito mais como uma porra-louca indelicada, hedonista e maluquete, que vive tomando altos porres de vermute e convidando à sua cama vários homens semi-desconhecidos. Nada a ver com a anjinha fofurete que vemos na telona. Ela, no filme, também não aparece com a densidade que possui no livro, quando é por horas radiografada pelo narrador com ironia fina, à la Milan Kundera: “A fim de me segurar comendo em sua mão, como talvez deseje, sempre me negará a última migalha”, escreve Chico.
O livro também passa longe de ser uma história de amor adocicada e terna, em que Kriska seria um porto seguro para um estrangeiro desnorteado, como fica a parecer na adaptação sentimentalizada que fez Carvalho. O que Chico descreve não é, de modo nenhum, uma relação amorosa alegre, sadia e radiosa que conduz a um happy end de conto-de-fada. Há no romance uma série de momentos em que o tom é de hostilidade, angústia e desnorteio muito mais que de harmonioso encontro. Cito Chico para referendar o dito: “Acho que Kriska só me fez entrar em casa porque não queria problemas com a polícia, caso eu viesse a falecer no seu portão”; “súbito me acometeu um espasmo, uma sensação de estrangulamento, uns arquejos violentos, eu soluçava como grunhe um porco…”; “esperei que me cuspisse na boca e me arranhasse a cara, depois me enfiasse aquelas unhas nos olhos e os arrancasse das órbitas, eu tudo suportaria…”.
Só por estes trechos já nota-se que a relação entre Kriska e Costa, que o cinema tenta transformar (sem muito sucesso) num bonitoso caso-de-amor açúcarado, é de fato uma tensa gangorra, em que lábios emudecem “palavras caídas em desuso de tão atrozes” (pg. 151) e o homem é capaz dos gestos mais brutais – como quando espatifa o prato de espaguete contra a parede quando não recebe os mimos que mudamente pede. O que em Chico é quase um Trópico de Câncer trashão e trágico e debochado, torna-se no cinema um Encontros e Desencontros adocicado com um pano-de-fundo cult e literário. Se for pra escolher, pois, fiquem com o livro. Ainda que o filme mereça ser visto e nos auxilie a penetrar no rico palácio de um dos grandes romances brasileiros dos últimos anos.
Budapeste, afinal, é uma obra sobre a podridão de um mundo literário espetacularizado, que Chico Buarque, sendo ídolo nacional e mito vivo, deve ter sofrido na pele quando procurou migrar da poesia cantada para a escrita romanceada. É uma obra que descreve arrebatados ímpetos de ciúme e vanglória muito mau-canalizados, e que Chico só não transforma em tragédias shakespearianas, dignas de figurarem em Otelo, pois têm muita paixão pelo deboche e pelo hilário para que recaia no melodramático. E é também, sobretudo, uma obra sobre amores trôpegos que tentam, muitas vezes em vão, vencer o abismo de desconhecimento causado pela solidão e por tudo que se perde na tradução.